Conheça Ana Lúcia, advogada paraplégica que, de muletas, escapou de uma rebelião na penitenciária de segurança máxima onde trabalhava; Saulo Rosa, único aluno cego de Medicina da turma; e Lecir, bancária que usa cadeira de rodas e que está em permanente conflito com os móveis do banco.
Abaixo está a versão em áudio desta reportagem, comentada pelos repórteres:
[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/280890054″ params=”color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]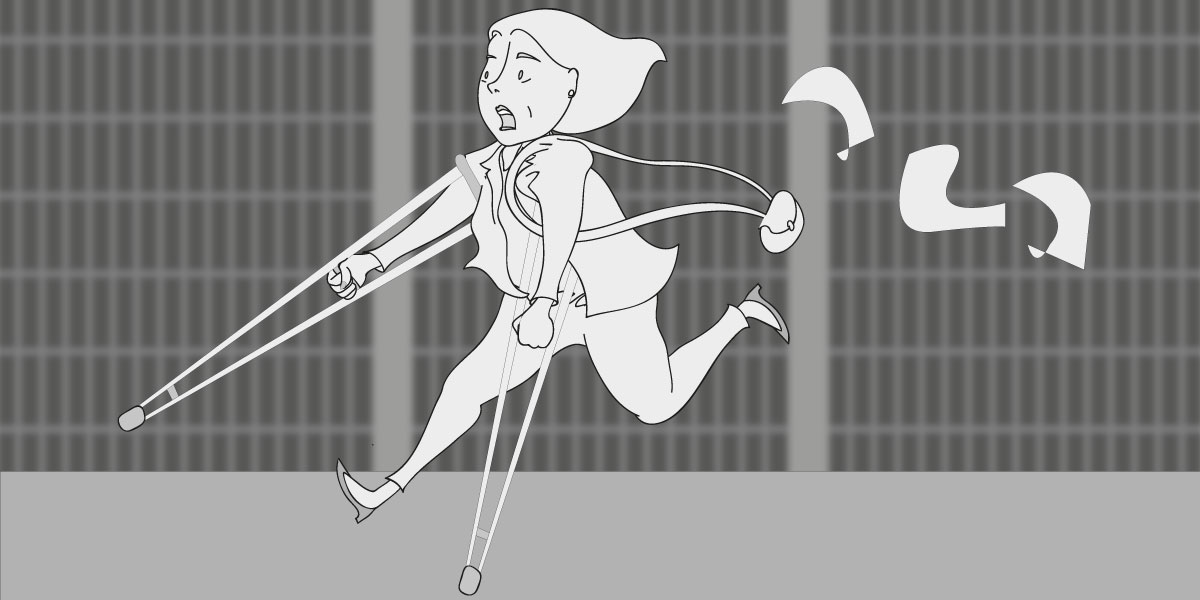
Ana Lúcia de Oliveira passava pela primeira semana de estágio em Direito na Penitenciária de segurança máxima Nelson Hungria, em Ribeirão das Neves, quando precisou fugir de uma rebelião. Ela estava em um banheiro, e mal teve tempo de fechar o zíper lateral das calças quando um agente penitenciário alertou: “Corre, menininha, corre!”.
Desde os 12 anos de idade, Ana Lúcia reveza cadeira de rodas e muletas para se locomover. Naquele dia, foi com a ajuda das muletas que ela fugiu o mais rápido que pôde. No desespero para escapar do tumulto, Ana não pensou duas vezes antes de seguir o agente penitenciário… na direção errada. “O que você está fazendo aqui? Eu vou pra rebelião!”, ele advertiu, e Ana recomeçou a corrida.
Ela fez o caminho de volta ainda mais depressa. Enquanto funcionários do presídio tremiam para enfiar a chave no cadeado de um dos portões de saída, alguém recomendou que uma moça se aproximasse de Ana para elas fugirem juntas. Mas Ana não queria saber de companhia. “A menina ia encostando em mim e eu longe da menina”, ela conta. “Assim que abrirem a porta eu vou deixar essa menina pra trás, porque, se pegarem ela, vão me pegar também”, ela pensava.
“Não pergunte como”, ela diz, mas, assim que os portões foram abertos, três “muletadas” bastaram para Ana escapar. “Para, Aninha, para! Já tá salva!”, gritaram para ela, que se afastava ainda mais da penitenciária. “Todo mundo me chama de a The Flash até hoje lá”, ela ri.
Durante nossa conversa, são poucos os tópicos em que Ana não intercala algumas risadas – tanto nossas quanto dela mesma. “Eu não sou hiperativa diagnosticada, mas eu me sinto hiperativa. Eu não aguento ficar parada”, ela justifica. E parece não conseguir mesmo. Vestida em tons alegres de roxo e laranja, as frases de Ana são pontuadas por uma gesticulação constante.
No dia em que nos encontramos, Ana deu preferência à cadeira de rodas motorizada. As muletas podem parecer mais fáceis de usar, mas Ana garante que a cadeira lhe dá mais mobilidade. Ela nos recebeu em uma sala de reuniões do Departamento de Apoio ao Advogado da Capital, um dos locais em que exerce as funções de presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas. É um cargo voluntário que ela equilibra com a gerência de um escritório próprio de advocacia. Ela também viaja a vários municípios mineiros em ações de conscientização.
“Escritório de advocacia não contrata estudante que seja pessoa com deficiência. Nem os pequenos e nem os grandes que precisam cumprir cota”, ela diz, enquanto conversamos sobre o estágio de Ana na penitenciária, que mais tarde se tornou o seu primeiro emprego. Nela, Ana encontrou um superior para quem cadeira de rodas e muletas não pareciam significar muita coisa: “O melhor chefe que eu tive foi militar. Militar não tem dó, não. Nem falou da minha deficiência, nem perguntou o que eu tinha. Eu amei aquilo”.
A deficiência faz parte da vida de Ana, que hoje tem 42 anos, desde muito cedo. Ela foi diagnosticada com artrite reumatoide juvenil com um ano de idade. Os sintomas foram embora por um tempo, mas, quando ela completou 12 anos, eles retornaram com mais força, o bastante para torná-la permanentemente dependente de muletas e de cadeira de rodas.
A escola foi interrompida durante três anos por decisão do pai de Ana. A educação da menina era conduzida em casa pelas dezenas de livros trazidos pela mãe, uma cearense que teve a filha em São Bernardo do Campo, São Paulo, e quando a garota tinha seis anos mudou-se com a família para Contagem, cidade vizinha de Belo Horizonte. Os volumes eram acompanhados pela ordem: “É pra ler tudo e depois eu quero saber do que se trata esse livro”, dizia a mãe.
O retorno à escola não foi fácil, já que inicialmente a diretora da escola municipal mais próxima à casa de Ana se recusou a matricular a menina, pois o prédio não tinha uma arquitetura acessível. “Nem se falava em acessibilidade”, conta Ana. Vencido esse obstáculo pela insistência, ela diz que: “Aí decolei, a minha vida foi só mudando”. A Constituição já prevê a educação como um direito de todas as pessoas – inclusive para o ensino privado.
Por que ela escolheu o Direito? “Quem me ensinou os primeiros passos do Direito foi a minha mãe”. Se havia algum percalço no caminho e Ana desanimava, a mãe não a deixava esquecer: “Não fica assim, que é um direito seu”.
Depois, foi uma novela que reforçou a vocação: “Você sabe aquela novela A Viagem [telenovela transmitida pela Globo em 1994]? Não tinha o Antônio Fagundes, que era advogado? Eu comecei a ver aquela novela e pensei, ‘Gente, acho que eu quero fazer Direito’”, ela relembra, rindo.
A mãe de Ana faleceu alguns dias antes da colação de grau da filha na faculdade. Mas o que ela ensinou perdura. “Coitado é o filhote de rato, que nasce pelado”, era o que dizia a mãe. Ela escondia as lágrimas quando insistia que a filha fizesse de tudo a despeito da paralisia nas pernas. Ana dá um exemplo: “A água estava aqui, e eu não conseguia andar naquela época. [Eu falava] ‘Mãe, me dá água’. [E a mãe:] ‘Vem pegar. Eu não vou te dar, você vai vir pegar’”. Se o irmão ou o pai de Ana faziam menção de apanhar o copo para Ana, a mãe interrompia: “‘Ninguém vai pegar. Se alguém pegar, eu corto a mão’”. Bem sabia ela que alguns anos mais tarde a filha seria capaz de correr até o copo.


Quando Saulo Rosa entrou para a Universidade Federal de Minas Gerais, em 2009, ele era o único estudante com deficiência visual na turma de 160 alunos – ou dentre os 320 que entraram no mesmo ano na Faculdade de Medicina. E apesar do curso ser um dos mais antigos do Brasil, fundado em 1911, a instituição ainda não estava preparada para receber um estudante que não enxergava como os demais.
Saulo começou a perder a visão aos sete anos de idade, consequência de uma doença chamada Stargardt, que causa a degeneração de células da retina. Na adolescência, a condição piorou, e hoje, aos 27 anos, ele tem visão subnormal severa. Ele consegue enxergar pessoas e vultos e se locomover sem restrições, mas, para ler textos e responder questões, Saulo precisa que as letras sejam impressas em tamanho maior ou então utilizar uma lupa eletrônica que amplia o texto e aumenta o contraste do que está escrito.
Assim que entrou na faculdade, Saulo procurou o colegiado de Medicina e pediu para que comprassem o equipamento de leitura para a biblioteca. Além disso, Saulo precisou acionar a Defensoria Pública de Minas Gerais para que a Universidade se comprometesse a imprimir os formulários de atendimento de pacientes em letras maiores. “Eu não consigo escrever neles porque elas são pequenos, o espaço é pequeno, as linhas são finas, então eu precisava de formulários adaptados. Foram basicamente três anos de briga com o hospital [das Clínicas] para que ele aceitasse fazer esses formulários”, relembra. “Não era nada caro, só precisava fazer um e depois de xerox. Uma funcionária da comunicação social fez todos os formulários adaptados em menos de meia hora”, completa.
No entanto, as situações mais delicadas durante a graduação foram experiências com professores. Um deles insistiu para que Saulo se apresentasse aos pacientes como “um médico deficiente”, aponta. “Foi no meu primeiro atendimento de clínica médica, ele exigia de mim que eu me apresentasse para o paciente dizendo: meu nome é Saulo e sou deficiente visual. Eu respondia que isso não fazia o menor sentido, que poderia falar isso ao longo do atendimento se o paciente demandasse, mas ele insistiu. Essa história me consumiu por alguns períodos”, desabafa. Outro professor perguntou se haveria uma observação no diploma de Saulo apontando que ele era um médico com deficiência visual.
Concluída a faculdade, Saulo decidiu tentar a seleção para residência de psiquiatria no Hospital das Clínicas da universidade. Na primeira vez que tentou a prova, em 2013, ele solicitou que a organização da prova imprimisse os textos em uma fonte maior, disponibilizasse uma pessoa para ser leitora das questões e concedesse mais tempo para ele concluir o exame, inclusive pelo tempo gasto para ouvir as explicações.
O resultado: no dia da prova, Saulo recebeu um tempo a mais, mas a letra não estava ampliada, as imagens não tinham descrição e a pessoa que estava disponível para ler a prova para ele não tinha nenhum conhecimento da área de Medicina. “Eu não esqueço disso, era uma jornalista que leu a prova para mim, teoricamente alguém que lê muito bem, e realmente ela lia muito bem, mas ela não sabia nenhum termo técnico da área de Medicina. E aí você pode imaginar a cena: uma pessoa que nunca leu os termos técnicos lendo uma coisa assim, um hemograma, ou tendo que descrever para mim – porque as figuras não foram descritas – uma ostomia, uma imagem em preto e branco perguntando: de acordo com a foto, o paciente pode ter tal distúrbio hidroeletrolítico?”, relembra Saulo. Para cada hospital a que Saulo se candidatou, ele pagou cerca de R$ 200 para fazer o exame.
Já no segundo ano, Saulo fez os mesmos pedidos à organização da prova, mas não obteve resposta. “No fim, faltando duas semanas para a prova, eu acionei o Ministério Público. […] Houve uma determinação judicial de adaptação da prova, uns quatro dias antes, aí eles adaptaram. No dia, a prova estava ampliada, a pessoa que leu a prova era uma enfermeira, mas as questões de figura ainda estavam lá, ainda não tinham descrição – eu ainda considero que fui prejudicado – mas pelo menos eu pude ler uma parte da prova, pude pegar minha lupa e acompanhar o que a enfermeira estava falando”, pondera. Ainda não há reserva de vagas para pessoas com deficiência nas seleções de residência em Minas Gerais.
Hoje, Saulo está no segundo ano da residência em psiquiatria. Ele comenta que nunca ouviu nenhum tipo de preconceito ou resistência dos pacientes. “Eu me sinto muito realizado na psiquiatria. É uma área que minimiza as minhas deficiências e maximiza as minhas habilidades. […] Eu adoro conversar com o paciente, eu adoro ouvir, então é um encaixe perfeito”, comenta.
Para Saulo, as demandas que faz às instituições por onde ele passa, por mais trabalhosas que sejam, valem a pena, pois são necessárias para que as pessoas com deficiência tenham perspectiva de serem independentes. “Eu fui um aluno mais caro que os demais, tanto na escola quanto na graduação. Eu obviamente estou sendo um residente mais caro que os demais. […] Mas, na ponta do lápis, se for comparar o que um deficiente pode gerar pra sociedade, pode produzir, e o que ele pode consumir em uma vida inteira como aposentado por invalidez, você vê que o investimento social compensa demais”, finaliza.
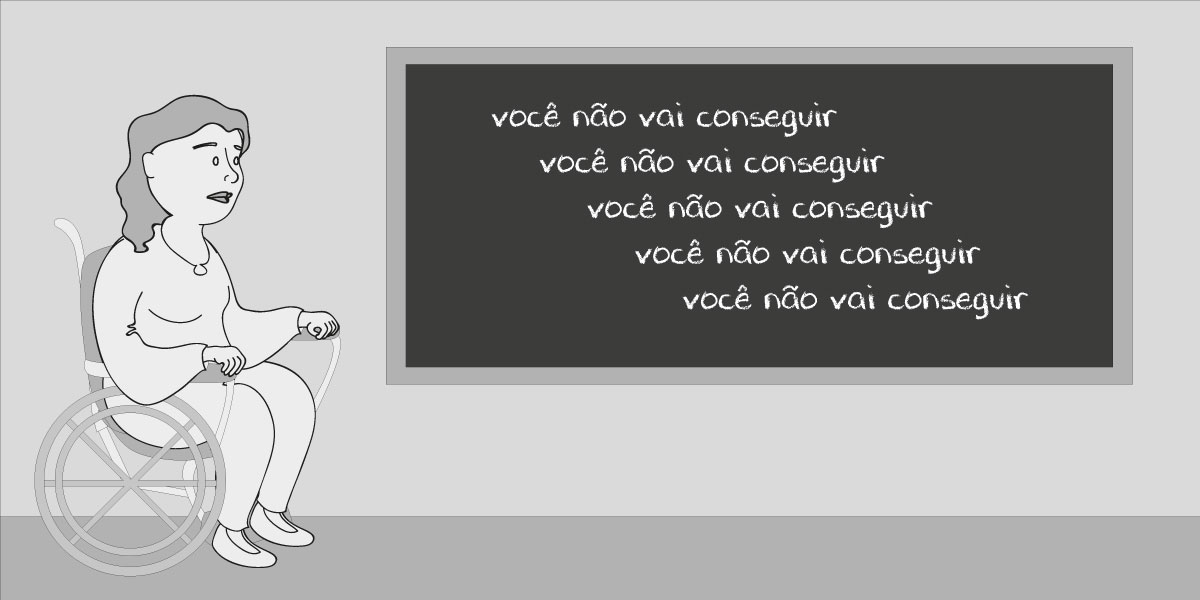
Lecir Martins tem 41 anos e já passou por várias profissões: foi recepcionista, feirante e, há 15 anos, é bancária. Na juventude, ela sonhava em ser professora e até fez o magistério, mas quando se candidatava a uma vaga recebia apenas respostas negativas. “Eles acham que você não vai conseguir escrever no quadro, que os meninos não vão te obedecer”, ela conta. A vontade precisou ser interrompida porque não queriam contratar uma professora cadeirante.
A paraplegia de Lecir é resultado da poliomite que ela contraiu quando tinha um ano e nove meses. Depois de passar um mês em coma, o bebê acordou já sem os movimentos das pernas, quando ainda mal havia dado os primeiros passos.
Em 2000, quando tinha 26 anos, Lecir prestou concurso para escriturária no Banco do Brasil e foi aprovada para preencher vaga específica para pessoa com deficiência. Depois de ser nomeada para o Banco, Lecir ainda esperou meses para trabalhar: “Eles me chamaram no mês de março e eu só tomei posse em agosto, porque a agência teve que construir um banheiro adaptado, colocar rampa nas plataformas, porque não tinha acesso pra cadeira de rodas, e colocar também o corrimão, então eu fiquei esperando até acontecer a reforma”. Desde o início do trabalho, em uma agência de Sete Lagoas, Lecir já passou por outras três, incluindo a atual, na rua Guarani, em Belo Horizonte.
Ela mudou de cargo, mudou de endereço, mas alguns problemas permanecem os mesmos. “O banco troca muito o mobiliário (…). Só que ele não se preocupa com o funcionário com deficiência, então a gente é que tem que se adaptar ao mobiliário. Toda vez que troca eu tenho que fazer alguma operação, mas tem que partir de mim, não do banco. Eu tenho que solicitar: ‘Eu quero uma mesa mais alta’, ‘Eu quero uma mesa mais ampla’…”.
Na última troca de mobiliário do Banco, Lecir passou trinta dias trabalhando em outro andar, onde os móveis não haviam sido substituídos e ainda serviam para ela. Como ela digita bastante no trabalho, o ideal é que os braços da cadeira de rodas se encaixem à mesa, para que a digitação não cause dores no ombro. “Então eu fiquei longe da minha equipe, longe do meu chefe, longe de todo mundo. Só pra poder usar uma mesa em que a minha cadeira de rodas entrasse”, ela relembra.
O banheiro também é uma preocupação: “Eu já esperei três meses por uma tampa de vaso”, diz Lecir, “porque tudo que é comprado no banco é por licitação, então eu mudei de setor, teve uma reforma de banheiro e eles não providenciaram o banheiro adaptado direito. Faltava corrimão, faltava altura do vaso, depois faltou a tampa (…) É difícil porque às vezes em outro andar não tem o banheiro adaptado, eles só fazem pra aquele andar, em que a pessoa [com deficiência] está”. Atualmente, ela é a única cadeirante da agência.
Além dos problemas de estrutura do espaço, Lecir já enfrentou preconceito no trabalho: “Eu tive uma gerente que achava que eu não tinha capacidade para o atendimento. Ela achava que os clientes iriam se sentir constrangidos, ou às vezes achava que eu não tinha capacidade pra atender por causa da cadeira de rodas. Foi a discriminação mais severa que ocorreu, a pior discriminação comigo foi essa, porque ela achava que eu não tinha capacidade para estar ali”.
O problema aconteceu em um agência anterior à que Lecir trabalha agora, e só foi solucionado quando a gerente, que era temporária, deixou a unidade do Banco, três meses depois. “Continuei atendendo, porque os clientes gostavam muito de mim. E outra coisa: eu sempre fui boa pra vender, e no Banco o que conta é meta. Se você bateu a meta, você está dentro daquilo que ele espera. Então não tinha nada que me desabonasse como funcionária. O que era cobrado eu sempre fazia”, ela afirma.
Por fim, Lecir, que também é mãe de um dos nossos repórteres, completa: “Eu acho que falta uma conscientização das empresas quanto à adaptação. Porque não adianta você ter as vagas pra pessoa com deficiência, você ter a cota, se as empresas não querem se adequar. Elas não respeitam”.
Confira as outras reportagens do dossiê sobre pessoas com deficiência no mercado de trabalho:
- Quais são as leis que regulam o trabalho para pessoas com deficiência no Brasil, e como elas têm sido descumpridas.
- As dificuldades no trabalho das pessoas com deficiência que conseguiram emprego.
- A lista de empresas de BH com as maiores multas por descumprirem a Lei de Cotas.












